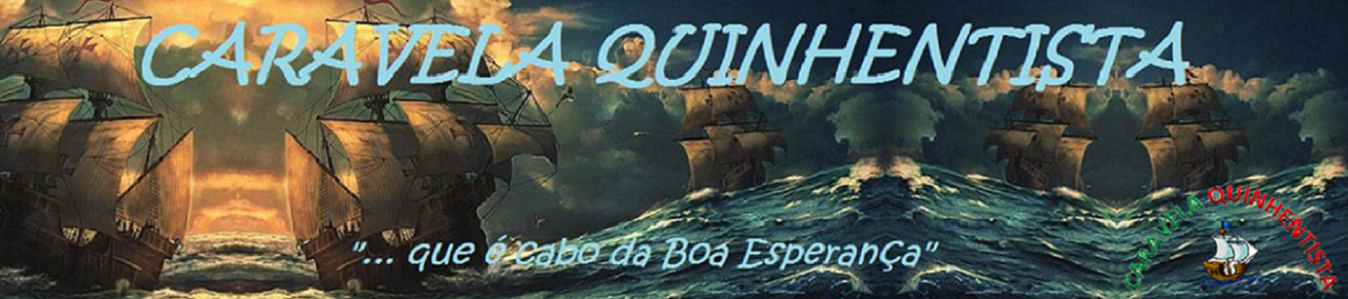Quando pensamos na História de Portugal, se recuarmos
aos tempos mais remotos, encontramos a Península Ibérica conhecida por Spania. São diversas as conjeturas
acerca da origem deste nome. A mais provável é que ele deriva do Fenício span, que quer dizer esconderijo. Para
os Fenícios, a Península era uma região longínqua e como que escondida nos
confins da terra, num tempo em que a navegação estava ainda no seu começo, e as
distâncias e os longes se mediam pelas dificuldades dos meios de deslocação. A
etimologia da palavra Espanha derivada da fenícia span, parece pois legítima. Também se diz que que o nome spania vem do facto de ali terem
encontrado grande quantidade de coelhos, de cuja significação, duplicada de
oculta e coelho, viesse o nome à “Hespanha”. Os Gregos também denominavam
frequentemente esta região de Hespera,
país do ocidente, face à sua situação geográfica a oeste, em relação à Grécia;
em grego hespera significa tarde,
ocidente. Os poetas Romanos muitas vezes lhe davam esta denominação, porque a
sua língua e literatura tinham muitas palavras emprestadas do Grego.
O nome Ibéria
pelo qual é designada a Península mais comummente, surge pela primeira vez na
narração de Scylax de Carianda, explorador e marinheiro grego que viveu no
século VI a.C. Num périplo à costa das colinas de Hércules (Gibraltar), abordou
um rio chamado Iber, Ibris ou Iberos (Ebro), dando o primeiro nome à
Península inteira e o de Iberos aos povos que a habitavam.
Com certeza não se pode afirmar que a Península foi
habitada por alguma tribo ou família indígena. Dela não se conhece sinal ou
vestígio algum certo, assim, a opinião mais comum é que ali terão havido
povoações mais ou menos antigas, umas anteriores às outras.
O primeiro povo de que há notícia a habitar a “Hespanha”,
é aquele de que parece descenderem os Bascos, os euskara ou euscaldunac,
também denominados iberos. Já seis
séculos antes da nossa era deixou este povo de ser preponderante na Península,
como resultado da migração através dos Pirenéus dum outro povo, belicoso e
bárbaro, os Celtas ou Célticos que, em resultado de ferozes
combates e da sua superioridade em número, ocuparam toda a Península. Estes
dois povos, originários da Ásia, fundiram-se num novo, exceto um outro que
emigrou, com o nome de Liguros e Sícanos. É desta época que os autores datam a
mistura do célebre povo que originou os Celtiberos. Uma outra versão sugere que
estes Celtas, vindos da Gália, encontraram na Península outros povos celtas aí
estabelecidos havia séculos, possuidores das melhores habitações e das melhores
terras do que os recém-chegados, quiseram essas mesmas terras e habitações, e,
por algum tempo, disputaram a sua posse em combates violentos, porém, porque
nem todas as terras estavam ocupadas e havendo lugar para todos, trataram da paz
e se reconheceram como homens da mesma estirpe, os antigos e os modernos, “hespanhóis-gauleses”,
aliaram-se, e, do rio Ibero tomaram o nome de Celtiberos, que os distinguiu,
quer dos Celtas residentes na Gália, quer dos antecedentemente estabelecidos na
“Hespanha”. Como quer que tenha sido, o que parece certo é que, da fusão destes
povos, nasceram no território central da Ibéria as tribos mistas chamadas
Celtiberos e os Célticos formaram os grupos tribais bárbaros: Cântabros, Arturos e Vascónios, ao norte; Galaicos e Lusitanos ao ocidente.
Segundo Alexandre Herculano, a origem das nações deve
procurar-se na agregação de homens ligados por certas condições,
distinguindo-se todas as sociedades humanas entre si por caracteres que
determinam a existência individual desses corpos morais, caracteres que podem
variar de uns para outros povos. No entanto, segundo a opinião do mesmo autor,
há três pelos quais comummente se aprecia a unidade ou entidade nacional de
diversas e sucessivas gerações, são eles: a raça, a língua e o território. Desta forma se poderá,
afirma o escritor, estabelecer a transição natural dos povos a que pretendemos
atribuir a origem da nação, do povo cuja história queremos conhecer.
Como é historicamente que consideramos a nação
portuguesa, importa saber se entre nós e algum dos povos ou tribos que em
tempos remotos habitaram a Península Ibérica, existem pontos de contacto que
nos liguem a esses povos primitivos.
No começo da história, os nossos cronistas terão
sentido que, antes dessa época, faltaria algo que unisse o Portugal que nascia,
ao mundo antigo. Portugal seria como que um conjunto de fragmentos de povos
habitadores da Península, diversos em tribos, em costumes e em línguas, cujas
mudanças e revoluções se ligavam complexamente na passagem do tempo por um
facto constante – os limites topográficos deste território entre os Pirenéus e
o mar. Para isso se enumeraram as diversas tribos que supostamente ocuparam o
nosso território e os limites onde elas assentaram. Naquilo que nos interessa,
o povo a quem alguns historiadores acharam por nossos avós, foi encontrado –
são os Lusitanos. Resta examinar quem eram estes antepassados nossos e os
territórios em que habitavam, para depois vermos se subsistem as relações mais
características de família e língua.
Os limites do nosso Portugal moderno não são os
mesmos, em termos geográficos, da antiga Lusitânia, e mesmo estes não eram
precisos. Segundo Estrabão, o território da Lusitânia era limitado a norte e
poente pelo oceano, limitado a sul pelo Tejo e para o oriente ultrapassava em
muito as nossas atuais fronteiras. Também, segundo o mesmo autor, o oeste da
Ibéria constava de três grandes regiões, determinadas fisicamente: o Cynetium (Algarve), a Mesoptâmia (entre Tejo e Guadiana) e a Lusitânia
primitiva (entre o Tejo e o extremo norte da Galiza), a qual se decompunha em
duas áreas: comarca dentre Douro e Tejo e a Galiza (ou Callaecia). No entanto, alega-se que são indecisas as noções de
Estrabão, pois ora inclui a Galiza e o território de entre Douro e Minho na
Lusitânia, ora os separa estabelecendo o Douro como divisória, fazendo ocupar
este território por uma emigração dos Celtas (Turdetanos e Túrdulos). No tempo
da cultura castreja (século VI a.C.), ao que parece, o país situava-se entre os
rios Minho e Douro e o Guadiana a sul. A pátria Lusitana ocuparia a metade, a
região entre o Douro e o Tejo. Porém, o que evidentemente se deduz dos
geógrafos antigos, tanto dos que falaram da Lusitânia antes da conquista
romana, como dos que se fundamentaram nas divisões por estes estabelecida, os
territórios a que se deu o nome de Lusitânia estendiam-se pelas províncias
espanholas muito para além das fronteiras orientais de Portugal. Parece certo
na nova divisão das províncias da “Hespanha”, feita pelos Romanos, que estes
fixaram a Lusitânia, ao norte no Douro, a sul no Guadiana e para o oriente iam
muito além da raia portuguesa, incluindo Salamanca até próximo de Toledo, daí
para sul e depois para nascente seguindo o curso do Guadiana desde a nascente
até à sua foz.
Os grupos étnicos que habitavam a Lusitânia na
proto-história, isto é, na fase de transição entre a pré-história e a história
(aparecimento dos primeiros objetos de metal, a escrita e também a chegada dos
Romanos à Península, no século III a.C.), terão sido os seguintes: na região do
Cynetium viviam os Cynetes ou Curetes, os Cemsi, os Glaetes, os Turdetani e os Celtici; a
norte do Tagus (Tejo), encontramos os Turdeli
Veteres, os Transcudani, os Igaeditani e os Presuni ainda a sul do Douro. Do Douro para o extremo norte
habitavam os Callaeci. Também na
mesma região habitariam outros Celtici,
povos resultantes da fusão de Celtas
com Callaeci, de que se distinguem os
Grovi. Ainda entre o Durius (Douro) e o Minius (Minho) se situavam os Callaico
Bracari, os Leuni e os Seurbi. Para leste, na região a que hoje
corresponde Trás-os-Montes, ficavam os Turodi.
Por aqui se vê que não existia unidade social na Lusitânia, e que as populações
estavam distribuídas por tribos. Terão sido os Fenícios, Lígures, Gregos,
Celtas e Cartagineses, que, cruzando-se com os primitivos povos das Lusitânia,
deram origem aos Lusitanos proto-históricos.
O nome Lusitânia, segundo alguns autores, deriva de Lusitani. Têm sido diversas as hipóteses
emitidas, quanto à sua origem: segundo uns, provém de Lusus ou Lysa, segundo a
qual a raiz Lus era muito vulgar em
território celta, porém outros o deduzem de Liusetani,
por sua vez tirado de liguses, antiga forma de Lígures. Uma outra hipótese
defendida é a que funda a etimologia de Lusitani
em Lusones, nome de uma tribo
celtibérica de que falam Estrabão e Apiano. Também se afirma que a origem do
nome Lusitânia se baseia no costume
dos Iberos dizerem os nomes das cidades, províncias, países, do dos povos que
ali habitavam, acrescentando-lhes uma palavra: do nome Lusões ou Lusas,
acrescentando-lhes tania, se compõe o
de Lusitânia, que na língua céltica
quer dizer, terra, província ou pátria dos Lutos.
O nome de Lusões, vem de Lous, querendo dizer grandeza, altura,
valentia, ao pouco que os assustava a morte e ao ódio com que abominavam o
domínio estrangeiro. Se esta etimologia dada ao termo Lusitânia não é correta, parece no entanto ser a mais razoável,
dado assentar em factos reais. Esta denominação veio a ser tão familiar aos
romanos, que por este único nome conheceram este povo, embora os Lusitanos
algumas vezes se apelidassem de Bellitanos e outras de Bellidonios.
Acaso seria possível que todos estes povos ou etnias,
já confundidos nos territórios centrais quando da abordagem dos Cartagineses,
conseguisse resistir sem se alterar, às invasões dos Gregos e Fenícios, à
conquista romana, à invasão dos Alanos, Visigodos e à conquista árabe? O
Celticismo das primeiras migrações asiáticas, foi sendo destruído pelo longo
domínio Cartaginês, tendo desaparecido por completo sob o império dos Romanos,
deixando apenas alguns fragmentos dos seus altares e rudes moradas, ou uma e
outra palavra da sua linguagem. O esquecimento, principiado com os
estabelecimentos comerciais (a abordagem dos fenícios) e continuado pelos
sistemas políticos das grandes nações que invadiram a Península, acabou com a
fusão destes povos na nação romana. Se esta assimilação ainda não era completa,
durante o século VI, época em que definitivamente o império visigótico se
assentou na Península, os Visigodos tinham o seu código, uma compilação dos
seus costumes tradicionais, os vencidos (hispano-romanos), regiam-se pela lei
romana, e, em meados do século VII, já todos os povos se achavam assaz
confundidos. Para não haver descriminação entre vencedores e vencidos, se
publicou o célebre código visigótico,
onde as diversas instituições bárbaras e romanas se encontraram, modificaram e
se aboliram as últimas distinções legais. Século e meio de trato sucessivo
entre homens unidos pela mesma crença religiosa, não se passou em vão, pois
trouxe a equiparação dos dois povos em direitos e deveres e a sua fusão
completa. A conquista árabe já não foi assim, dado que entre os povos
visigóticos e os sarracenos havia a diferença das religiões; no entanto, as
relações amigáveis que se estabeleciam entre os chefes dos dois povos, os usos,
os costumes e ainda as instituições que passaram de uma sociedade para a outra,
mostram que apesar das crenças, da rivalidade do domínio e dos rios de sangue
vertido, os dois povos se moldaram ao contato um do outro.
O mesmo se poderá dizer na língua. A linguagem
céltica não deixou vestígios e os efeitos da conquista romana alargaram-se
também à transformação dos idiomas da Península. Antes falar-se-ia uma
linguagem bárbara e confusa à mistura de Ibérico, Céltico, Fenício, Grego e
Púnico (cartaginês), porque estas foram as misturas no sangue dos habitantes da
Península, e ainda existem vestígios. Com a conquista romana, transformaram-se
os idiomas; os vencedores impuseram-se aos vencidos. Era este um dos elementos
da dominação do império, quer nos povos vencidos, quer nos aliados. A seguir
aos Romanos, vieram os Visigodos e os Árabes, e deles nos restam ainda
vestígios da linguagem.
Tendo havido pois uma assimilação completa dos povos
habitadores de toda Península perante o domínio visigodo, parece que a razão
que alguns autores encontraram para nossos avós, apenas assenta na realidade
geográfica donde nasceu Portugal, pois nos povos que habitavam a Lusitânia não
se encontravam reunidas as outras duas condições de que falava Alexandre
Herculano.
No entanto, os historiadores que acham que os nossos
antepassados são os Lusitanos, argumentam com o facto de que há uma
originalidade coletiva no povo português. A unidade histórica peninsular,
apesar do dualismo político, será a prova da originalidade portuguesa. De entre
as tribos ibéricas, a lusitana era, se não a mais, uma das mais caracterizadas
individualmente; há no génio português algo de vago e fugitivo, contrastante
com a afirmativa do castelhano. No heroísmo lusitano há uma nobreza que difere
da fúria espanhola; nas nossas letras e pensamento há uma nota profunda e
sentimental, irónica ou meiga, que não se encontra na civilização de Castela – violenta,
apaixonada, capaz de inventivas, mas alheia a toda a ironia, – mais que humana
muitas vezes, mas outras abaixo da craveira humana, mais parecida com as feras.
Trágica e ardente, a história espanhola é diferente da portuguesa, mais épica;
as dissemelhanças da história traduzem as diferenças de carácter. Creem que a
individualidade do carácter dos lusitanos provem duma dose maior de sangue
celta que gira nas nossas veias, misturado com o nosso sangue ibérico. Os nomes
próprios de lugares, de nomes de pessoas e divindades, extraídos das inscrições
latinas da Lusitânia e da Tarraconense, que constituem o nosso Portugal, provam
a preponderância de um elemento céltico.
Sem pretensões de prender ou afastar a nossa história com a desses povos que nos precederam, apenas se apresentam alguns dos fundamentos que há para rejeitar, ou não, essa paternidade. A história desse tempo é escura e os relatos dos acontecimentos que mudaram tanta vez, só começa a aclarar-se com os relatos dos historiadores gregos e romanos, que nos contam as guerras que uns e outros sustentaram na Península, para aqui estabelecerem o seu domínio.
Bibliografia:
História de Portugal
desde os tempos primitivos… (Introdução – Francisco Duarte d’Almeida e Araújo)
(Biblioteca Pública Nacional, Lisboa)
História de Portugal
(Alexandre Herculano – 8ª edição – tomo I – Introdução) Biblioteca Pública
Nacional, Lisboa)
História de Portugal
(J. P. Oliveira Martins – tomo I) (Biblioteca Pública Nacional, Lisboa)
Revista Nova Acrópole nº 30
– 1986 (Eduardo Amarante)